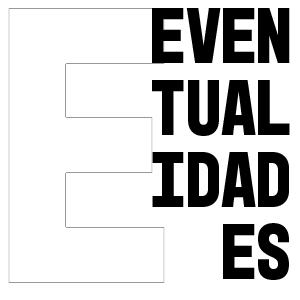“A humanidade não seria humanidade — se um reino milenar não devesse chegar” (Novalis)
Na nona tese de Sobre o Conceito de História, o filósofo alemão Walter Benjamin escreveu palavras que parecem descrever o mundo submetido à pandemia de COVID-19:
“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.”

O texto expressa, no entendimento de Scholem, uma visão melancólica do processo histórico, percebido como um incessante ciclo de desespero. O próprio Benjamin formula as coisas em termos um pouco diferentes quando, em A origem do drama barroco alemão, afirma que a história é “a história do sofrimento do mundo”. Benjamin e Scholem estiveram diante da catástrofe incomparável do nazismo. Na introdução à edição dos Estados Unidos da correspondência entre Scholem e Benjamin, Anson Rabinbach aponta as alusões que Benjamin faz ao nazismo em seus escritos do final da vida:
“Scholem however has put together sufficient testimony to understand that Benjamin’s remark about “the Zeitgeist, which has set up markers in the desert landscape of the present that cannot be overlooked by old Bedouins like us (127) was referring to the Hitler-Stalin pact. When in early 1940 he spoke of “prostrate politicians who “confirmed their defeat by betraying their own cause,” his deep reaction to the events in the political arena are evident.”
A segunda guerra representou o fim da história, ao menos o fim de certa história, na medida em que a partir de então a narrativa ocidental e tautológica que havia perdurado durante toda a modernidade começa a se desfazer. Não por acaso mais de um autor escreveu sobre o que vai surgir depois da modernidade em termos de uma pós-história, entre eles Flusser. Para Flusser, a escrita inaugura a história e o ciclo de predomínio da razão. Portanto, o ocaso da razão equivale à pós-história.
Este tipo de pensamento aparece em muitos autores que vem tratando a cultura digital como o fim do ciclo moderno, e uma espécie de retorno modificado a aspectos que lhe antecederam — como Basbaum e Ernst. Em Sonic Time Machines, Ernst afirma que até “agora a historiografia privilegiou os registros arquivísticos visíveis e o legíveis em completo acordo com o diagnóstico de McLuhan da Galáxia de Gutenberg como sendo dominada pelo conhecimento visual”. Deste ponto-de-vista, a pós-história coincidiria com uma virada multissensória que ameniza o papel do olhar na cultura.
Flusser trata da questão de forma explícita em um ensaio inédito sobre Kafka, disponível para consulta no Arquivo Flusser. Ele apresenta o escritor tcheco a partir de coordenadas geográficas e históricas. Ao tratar das coordenadas históricas, Flusser afirma que o começo do século 20 é “uma época entre Idades. Marca, com seu desenvolvimento das ciências e da indústria, a plenitude da Idade Moderna. E marca, com a sua guerra e com o seu abandono dos valores modernos, o início de uma nova Idade. É uma época na qual se paralisa um projeto que já perdeu significado, e ainda não surgiu um projeto novo”.
Se Benjamin não chega a formular um conceito explícito de pós-história, ele também vincula história e escrita. Em Ler o Livro do Mundo, Seligmann-Silva refere-se ao Sprachaufsatz para encontrar o seguinte pensamento do filósofo das passagens: “Quando, com o Trauerspiel, adentra-se no palco, ela [a história] o faz como escrita. Na face da natureza se encontra a palavra história, com os caracteres da transitoriedade. A fisionomia alegórica da natureza-história, que é posta na cena com o Trauerspiel, é efetivamente presente enquanto ruína. /…/ O que se encontra aí desfeito em escombros, o fragmento significativo: esta é a matéria da criação barroca”. Escrita, história, fragmentos, ruínas. Temas que perspassam o pensamento benjaminiano.
Esta relação entre escrita e história que pressupõe uma superação da histórica com o fim da escrita leva a uma primeira pergunta sobre o parágrafo de Sobre o Conceito de História a respeito do Angelus Novus: seria possível considerar a história uma catástrofe superada pela pós-história? Dizendo de outra forma: até que ponto este trecho de Benjamin sintetiza a influência messiânica em sua obra?
Um aspecto a ser considerado é o jogo de direções que este parágrafo (e o pensamento de Benjamin em geral) sugere. A volta ao passado é uma ida ao futuro. Mais uma vez em Ler o Livro do Mundo, Seligmann-Silva identifica em Novalis este impulso. O escritor do romantismo alemão afirma que o “autêntico autor de conto de fadas é um visionário”, o que Seligmann-Silva explica como um elo entre tempos afastados entre si: “passado remoto (a “época” da linguagem originária) e futuro profético (antevisto nos contos de fada) se refletem”.
Este jogo de direções divergentes leva a um tecido não homogêneo da história, mas há algo que parece fora de lugar nisto tudo (como será retomada um pouco mais adiante). Por ora, é importante chegar onde o texto de Seligmann-Silva leva, através do romantismo de Iena: “A reflexão sobre a linguagem abarca, portanto, nestes dois autores [Novalis e Benjamin], não apenas uma filosofia da história de caráter messiânico, como também deixa entrever a íntima relação existente para eles entre a linguagem e a verdade”.
Ao contrapor a contracultura e todas as utopias que ganham fôlego nos anos 1960 ao deserto abominável do nazi-fascismo da primeira metade do século 20, parece que há uma espécie de luz após o fim do pior dos túneis. Diante disto, o texto de Benjamin soa equivocado, e os argumentos em favor de ciclos positivos e negativos que se sucedem parecem mais razoáveis que a ideia de história como sucessão de catástrofes. É como se o tecido da realidade mostrasse a possibilidade de uma vida pós-catástrofe. Isto leva a uma segunda pergunta sobre o parágrafo em questão: seria possível, em alguma medida, igualar pós-história e pós-catástrofe? Em que medida a catástrofe poderia ser tida como início de algo que lhe sucede, e não o fim de algo, ou um fim em si?
Mas, lendo novamente o parágrafo em questão, um aspecto a ser debatido do texto de Benjamin é o uso da palavra progresso, este termo fora de lugar (conforme aludido há pouco). Ele parece contraditório com o modo benjaminiano de ler a história (na contramão das narrativas dos vencedores e suas direções tidas nestes relatos como evolutivas). Da história à contrapelo seria possível dizer se tratar de uma história regressiva, portanto avessa à ideia de progresso. De fato, toda história só pode ser regressiva. Qualquer coisa diferente disto é positivismo. Mas a palavra progresso sugere um ponto-de-fuga para além da tragédia que o texto anuncia.
Se a resposta para a primeira pergunta colocada acima for positiva, em que medida haveria um uso messiânico, ao invés de tautológico, da palavra progresso? Neste sentido, seria possível entender a pós-história como uma progressão da catástrofe que encerra a história, talvez mais no sentido musical de um acorde que progride a outro que no sentido linear de tempo que supera o anterior? Estaria Benjamin supondo, de forma velada, uma calmaria que sucede a tempestade que arrasta seu anjo para o futuro? Estaria ele supondo que a tragédia era uma espécie de trajetória pela qual transita a antecâmera disto que ele num lapso chamou de progresso?
Este parágrafo do texto não diz nada a respeito, a não ser que essa tempestade chamada progresso impele o anjo da história para o futuro. Pode-se fazer uma leitura mais direta, de que o progresso (e, portanto, o capitalismo?) arrasta os fatos da história de forma violenta, o que torna a sucessão dos acontecimentos sempre trágica (mas já vimos que a oscilação entre momentos melhores e piores complica uma visão radical neste sentido). Ou uma leitura mais indireta, que supõe o progresso como algo que leva à tragédia, como uma forma de prelúdio ao que virá, em seguida à escrita do texto, na forma de assassinato de massa. Benjamin e as minúcias do pensamento ensaístico que ele movimenta com elegância e precisão, sempre coloca os opostos em tensão, ao invés de decidir de forma incisiva por uma possibilidade única. O debate lhe interessa mais que as conclusões.
Outro aspecto em aberto surge como consequência da segunda pergunta, que sugere aproximar pós-história e pós-catástrofe. Um autor que interessou a Benjamin permite avançar quanto a isto. Em A vinda do Messias, Kafka afirma que “o messias só vira quando ele não for mais necessário; ele virá, não no último dia, mas no último dos últimos”. Desta perspectiva, é preciso rever o aparente equívoco em consequência da visão melancólica que Benjamin expressa, pois se de fato há um componente messiânico em sua leitura, é preciso levar em conta este esticamento do tempo que tende ao infinito. É como se o fluxo da história fosse uma onda sonora: olhando no detalhe vêem-se as oscilações de frequências, olhando de long, percebe-se o contínuo, mesmo que crivado.
Neste modo de pensar, a pós-história seria apenas um deslocamento para além da narrativa ocidental que prevaleceu durante a modernidade, talvez até antes mesmo dela, se for para levar em conta um texto como O que significa a estrutura aristotélica da linguagem?, capítulo de Korzybski no livro Ideograma, de Haroldo de Campos. Com outros raios e trovoadas, a tempestade que arrasta o Angelus Novus para o futuro se manteria em curso, mudando apenas a intensidade das intempéries naquilo que podemos perceber como ciclos olhando de perto, mas que no conjunto são esta grande trajetória trágica, “a história do sofrimento do mundo”.

Esta percepção trágica da história parece ter ganho outro sentido diante da atual pandemia do COVID-19. Os dias se tornaram parecidos com cenas de um filme distópico, com direito a presidentes psicopatas ou pior (e sem palavras para descrever), grupos de pessoas que pairam pelas ruas como se fossem seitas bizarras, noticiários apocalípticos e um confinamento imposto, que põe uma parte significativa das pessoas entre nervosas, deprimidas ou ansiosas com a vida entre quatro paredes (apesar que outros tem manifestado gostar da situação de ficar em casa).
Trata-se de um acontecimento inusitado, pois não se compara à duração e à amplitude da peste negra — por enquanto, e certamente por algum tempo, pois a peste negra pairou sobre a Europa por quase uma década, num pico entre 1347 e 1351, e retornando em surtos até praticamente o final do século 19 — ou à letalidade da gripe espanhola. O principal perigo do chamado coronavírus é a capacidade de contaminação. Um vírus da era informacional, pois seu principal atributo é a transmissibilidade.
Diante disso, foi preciso que as pessoas passassem a viver em confinamento o que, em certo sentido paradoxalmente, levou a uma catalisação de novas sociabilidades em rede que estavam latentes (e em muitos casos haviam sido sonhadas em certas utopias de futuro, para se realizar, ironicamente, num momento distópico). Como se um vírus contaminasse uma parcela representativa das pessoas ao redor do mundo, mas indiretamente contaminasse o mundo todo com um impulso de transmissão da vida pelas plataformas disponíveis. Um exemplo localizado aparece no artigo recente Através da Janela, mas a questão é mais complexa, pois não envolve apenas o uso íntimo das redes sociais, mas também os aspectos comunitários e públicos do uso das plataformas em rede.
Não é por acaso que já surgiram vários memes propagando a ideia de que o confinamento físico não é equivalente ao isolamento social. As pessoas continuam em contato, e parece até que o grau de comunicação aumentou — o que fez as pessoas entenderem, em parte, porque Baudelaire, no belo poema Os olhos dos pobres, sugere o que pode haver de assustador no excesso de comunicação. Um abismo intransponível, nas palavras de Benjamin.
Mas, para além da cadeia em curso de acontecimentos, anuncia-se a catástrofe única de uma economia corroída. O FMI descreveu o atual encolhimento da economia como o pior desde a grande depressão dos anos 1930. Se não faz sentido comparar o atual contexto de pandemia com a devastação nazi-fascista que rodeava Benjamin quando ele escreveu sobre o angelus novus, também não deixa de ser legítimo perguntar até que ponto uma crise econômica não vai agravar a já assustadora escalada conservadora que vem colocando pensamentos e atitudes fascistas cada vez mais no centro dos acontecimentos (no que o Brasil infelizmente tem se mostrado absurdamente exemplar).
Quais as chances da pandemia do COVID-19 ser um prelúdio a uma catástrofe de maiores proporções? Qual o sentido de um trecho como este de Benjamin, escrito na maior escuridão dos tempos, para os dias hoje também escuros? Ou será que as novas sociabilidades e a escassez econômica vão estimular a invenção de outras formas de vida para além do esgotamento que o capitalismo vinha promovendo, fazendo com que uma catástrofe sanitária ponha fim a um ciclo de catástrofes econômicas que aumenta a desigualdade de forma perversa?
Assim, resta o debate sobre o sentido do termo progresso no parágrafo em que Benjamin liga o angelical ao tempestuoso — e como ele pode refletir no que aventamos pensar sobre os dias de hoje. Seria a catástrofe a finalidade da história? Ou o fim da história seria o fim da catástrofe, para o início de um mundo pós-catastrófico? Se certas coisas mudam de sentido com o COVID, outras perguntas parecem perdurar e ligar as épocas, mesmo quando a escala de suas tragédias não chega a justificar comparações muito simétricas. Haverá um novo mundo, pós-pandêmico. Mas qual?